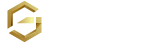A usucapião é a aquisição da propriedade com fundamento na posse de longa duração.
Por outras palavras, tem o direito de invocar a usucapião quem tenha sido possuidor de uma coisa durante um longo período, tornando-se proprietário ao fazê-lo.
Por sua vez, um condomínio é composto por um conjunto de unidades ou frações autónomas de um edifício distintas e isoladas entre si e que podem ter diferentes proprietários: os condóminos.
Cada condómino é, então, proprietário exclusivo da sua fração autónoma e comproprietário das partes comuns do edifício.
São partes obrigatoriamente comuns de um prédio o solo, os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a sua estrutura; o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso do último pavimento; as entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum a dois ou mais condóminos; e ainda as instalações gerais de água, eletricidade, aquecimento, ar condicionado e semelhantes.
Presumem-se ainda comuns os pátios e jardins anexos ao edifício, os ascensores, as dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro, as garagens e, em geral, as coisas que não sejam de uso exclusivo de um dos condóminos.
As partes obrigatoriamente comuns são insuscetíveis de apropriação individual, tornando impossível a aquisição por usucapião.
O mesmo não acontece com as partes presumidamente comuns, podendo operar a aquisição através de usucapião destas.
Para que tal ocorra é necessário que o condómino invoque e comprove ter a posse exclusiva dessa parte comum, durante um certo período.
Esse período varia conforme se trate de posse de boa ou má-fé, titulada ou não titulada.
A aquisição de uma parte comum por usucapião fica ainda dependente da verificação da suscetibilidade da fração de se assumir como uma fração ou unidade distinta, independente e isolada, devendo ainda ter acesso próprio e direto à via pública ou a uma parte comum do edifício.
Posto isto, ainda que os requisitos sejam muito apertados, do ponto de vista académico, é possível a aquisição de parte comum de um determinado condomínio por via da usucapião.